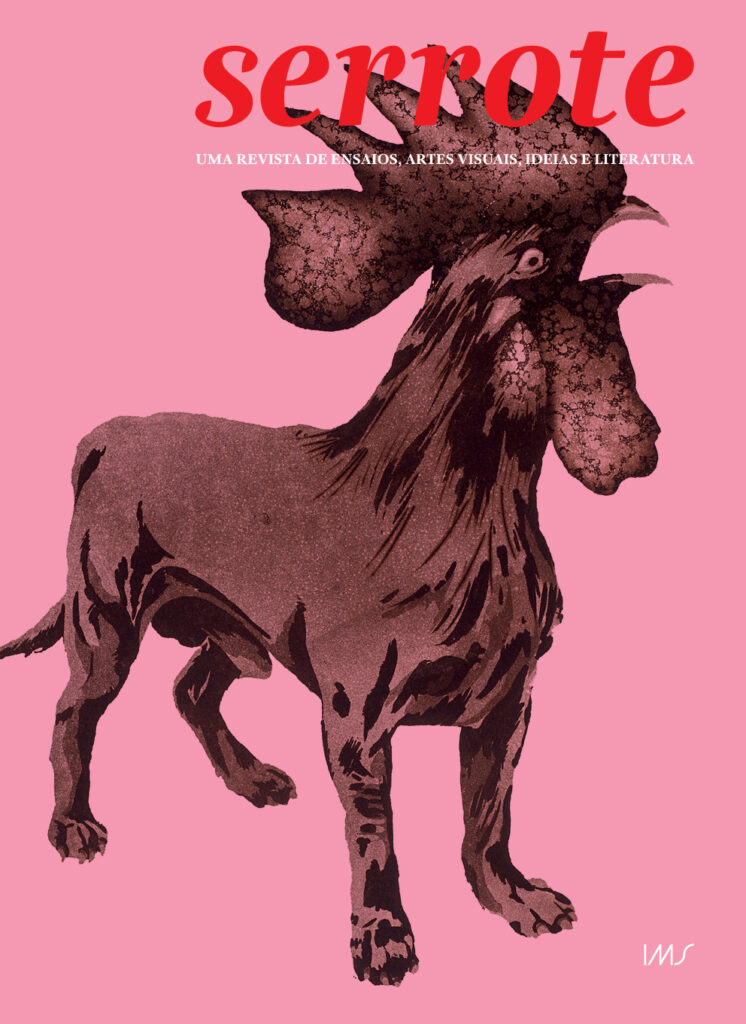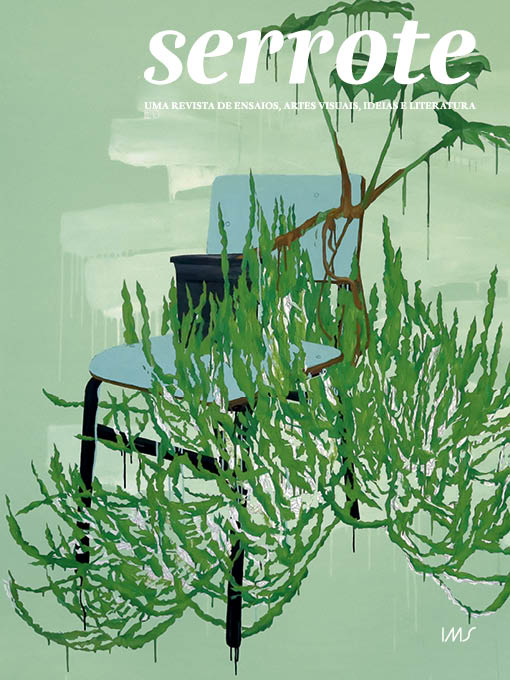Mais do que um verso de marchinha de carnaval, Peri beijando Ceci é a imagem que se fixou de O Guarani. Fruto do romantismo e sua ambição em criar um mito nacional fundador, o romance de José de Alencar é paradigmático de uma certa ideia de país: aquela em que o europeu entra com os princípios da civilização, constituindo um núcleo ao qual o indígena faz bem em se adequar, para desfrutar das benesses do progresso. Quanto ao nativo, sua contribuição está na relação autêntica (porque autóctone) com a terra e no vigor físico, bruto, puro e até mesmo pueril, que deverá ser burilado pelo colono benevolente e avisado.
Publicado em 1857, o “romance brasileiro” de José de Alencar conta a história de uma família que vive isolada na serra dos Órgãos, nos primórdios da colonização do Rio de Janeiro. Rodeados por mercenários e traficantes, os Mariz (o fidalgo dom Antônio, sua esposa Lauriana, seus filhos Diogo, Cecília e Isabel) se veem cercados por indígenas em busca de vingança, depois que Diogo acidentalmente mata uma jovem aimoré. A família também é traída por Loredano, um dos mercenários, que planeja raptar a bela Ceci. Quando o “castelo medieval” em que a família vive está prestes a ser tomado, a salvação aparece na figura de Peri, o goitacá de alma nobre que se apaixona por Ceci, aceita o batismo cristão e escapa com a amada para fundar uma nova raça de brasileiros.
Alfredo Bosi11 observa que O Guarani é daqueles romances que iluminam mais a época em que foram escritos do que aquela que retratam. Pode-se dar um passo além e afirmar que o romance de Alencar é daqueles que expressam, por um efeito involuntário de estrutura, atavismos muito duradouros. No esforço de capturar o olhar de seus contemporâneos, o escritor escolhe nos tempos passados em que ambienta a trama os traços que se mantiveram em sua época – e, às vezes, insere na narrativa algumas formas anacrônicas. De contrabando, incorpora ideias, estruturas de comportamento e conceitos que perdurariam até nossos dias.
Vamos, a seguir, explorar a ideia de que José de Alencar constituiu em O Guarani, particularmente por meio de dom Antônio de Mariz e Peri, um paradigma nacional involuntário. Bosi define a história de Peri como um “mito sacrificial” e aponta como cerne do romance o momento em que dom Antônio batiza o nativo e lhe transfere seu nome. Para ele, o texto expressa uma característica particular do romantismo e do nacionalismo no Brasil do século 19, tão bem representada pelo escritor cearense: trata-se de uma literatura de fundação da nacionalidade com receio de “qualquer tipo de mudança social, parecendo esgotar os seus sentimentos de rebeldia ao jugo colonial nas comoções políticas da Independência”. Onde se esperaria que o índio encarnasse a rebeldia e simbolizasse o nacionalismo em oposição à ocupação europeia, “o índio de Alencar entra em íntima comunhão com o colonizador”.

Vamos, a seguir, explorar a ideia de que José de Alencar constituiu em O Guarani, particularmente por meio de dom Antônio de Mariz e Peri, um paradigma nacional involuntário. Bosi2 define a história de Peri como um “mito sacrificial” e aponta como cerne do romance o momento em que dom Antônio batiza o nativo e lhe transfere seu nome. Para ele, o texto expressa uma característica particular do romantismo e do nacionalismo no Brasil do século 19, tão bem representada pelo escritor cearense: trata-se de uma literatura de fundação da nacionalidade com receio de “qualquer tipo de mudança social, parecendo esgotar os seus sentimentos de rebeldia ao jugo colonial nas comoções políticas da Independência”. Onde se esperaria que o índio encarnasse a rebeldia e simbolizasse o nacionalismo em oposição à ocupação europeia, “o índio de Alencar entra em íntima comunhão com o colonizador”. O espírito do romance fundador da literatura nacionalista brasileira é, como bem aponta Bosi, o paradoxo do nacionalismo eurocêntrico. Devemos estranhar que seja assim no país que instaurou o trabalhismo latifundiário, o sindicalismo de Estado, a “modernização conservadora”, a “revolução redentora” e a redemocratização conduzida com o beneplácito de inúmeros aliados da ditadura? Responder “não” é o primeiro passo para reconhecer os atavismos que o romance pode carregar.
Empenhado num olhar retrospectivo sobre esse projeto de país, em busca das contradições encarnadas em Peri, retorno às páginas iniciais do romance. Encontro ali, de fato, um texto paradigmático, ainda que por motivos que apenas tangenciam o personagem-título. Peri não é uma alegoria do Brasil. É, isso sim, a alegoria da alegoria; ou, para usar uma fórmula algo abstrusa, ele é a projeção de algo que o país pretende pensar que acredita. É claro que o paradigma de uma fantasia merece ser examinado e estudado; o ideal romântico é uma etapa histórica cujos interstícios são reveladores. No entanto, O Guarani3, certamente no contrapé das intenções de seu autor, contém elementos que iluminam um Brasil real – o Brasil imperial de meados do século 19, quando Alencar escrevia –, mas também um Brasil que permanece.

O romance descreve, para os leitores do pequeno Rio de Janeiro imperial, a serra dos Órgãos tal como se configuraria nos primórdios da colônia, em 1604 – e, ao fazê-lo, reflete modos de viver e agir que ecoam ainda hoje no Rio-metrópole e em qualquer outra cidade do país. Antes mesmo de Peri, se for preciso destacar um personagem como paradigmático no interior do paradigma, devemos mirar em dom Antônio de Mariz. Não será o corpo selvagem a trabalhar e absorver a civilização que se pretende uma Europa transplantada, mas aquele que, desde o princípio, carrega consigo essa civilização.
De contrabando incorpora ideias, estruturas de comportamento e conceitos que perdurariam até nossos dias.
O que primeiro dispara o alerta sobre o paradigma involuntário é a descrição da casa “larga e espaçosa” de dom Antônio. Como naquilo que o cinema mais tarde chamaria de travelling, José de Alencar mostra a casa “de fora para dentro”, situando-a na natureza selvagem à margem do Paquequer. A ênfase está explicitamente nos dispositivos de segurança: na primeira frase, lemos que a casa é “construída sobre uma eminência e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada a pique”. Após a descrição da estreita escada de pedra que dá acesso ao promontório onde vivem dom Antônio e sua família, lê-se que “aí, ainda a indústria do homem tinha aproveitado habilmente a natureza para criar meios de segurança e defesa”. Segue-se a descrição das fileiras de árvores e espinheiros que isolam esse único acesso. Só então se encontra a descrição da fachada (“simples e grosseira”), do pátio (“cercado por uma estacada”) e a disposição das edificações. Vale destacar desde já um elemento que terá sentido mais tarde, principalmente pelos personagens obscuros que são brevemente mencionados: “O fundo da casa, inteiramente separado do resto da habitação por uma cerca, era tomado por dois grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros e acostados”. Por fim, o autor se dispõe a “abrir a pesada porta de jacarandá, que serve de entrada, e penetrar no interior do edifício”.
A ênfase na defesa não é injustificada, já que a casa dos Mariz será sitiada, permitindo ao herói, Peri, mostrar ao leitor por que, afinal de contas, é um herói. Mas a referência à muralha, à estacada e à fileira de espinheiros precede a menção à casa, seja por dentro ou por fora. Antes mesmo de sabermos quem são os personagens, sabemos que vivem numa fortaleza. Ao ler sobre dom Antônio, já intuímos que algo como uma guerra está rondando. Essa impressão será reforçada logo após a apresentação do proprietário, quando aprendemos como a casa foi construída, mas ainda não sabemos nada sobre os cômodos ou a família: “A casa era um verdadeiro solar de fidalgo português, menos as ameias e a barbacã, as quais haviam sido substituídas por essa muralha de rochedos inacessíveis, que ofereciam uma defesa natural e uma resistência inexpugnável”. O contraste entre o “solar do fidalgo português” e a fortaleza na colônia é justificado: “Isto era necessário por causa das tribos selvagens, que, embora se retirassem sempre das vizinhanças dos lugares habitados pelos colonos, e se entranhassem pelas florestas, costumavam contudo fazer correrias e atacar os brancos à traição”.