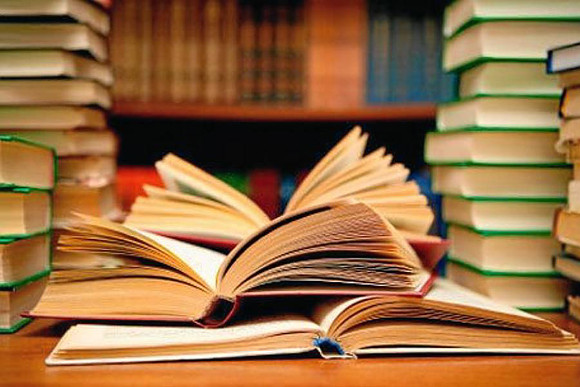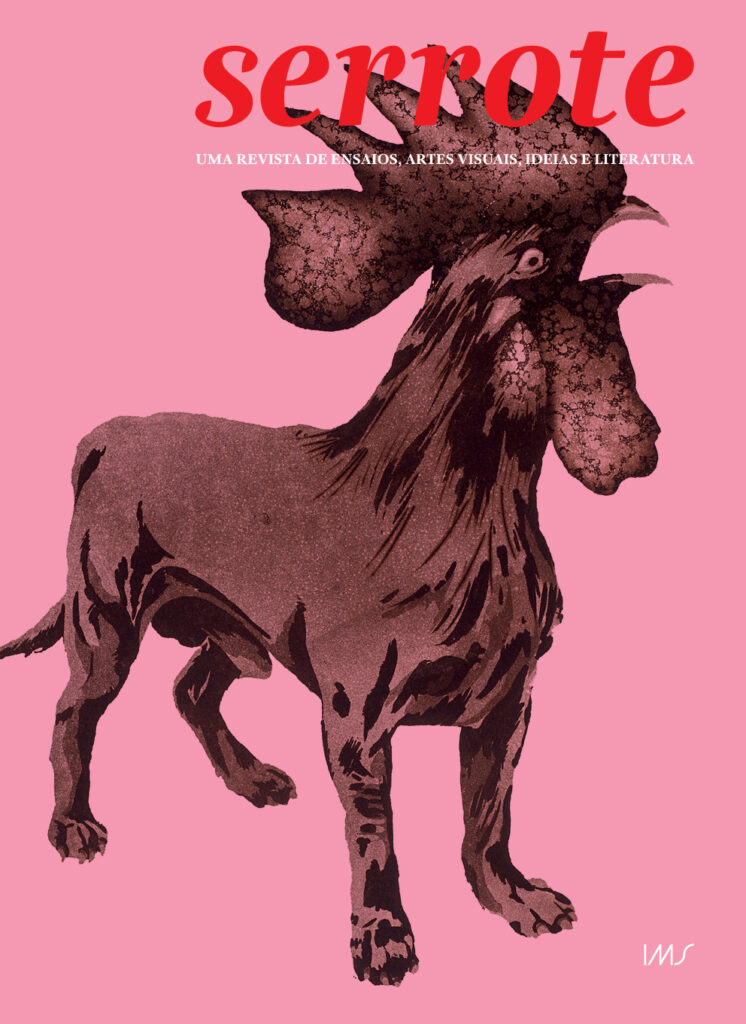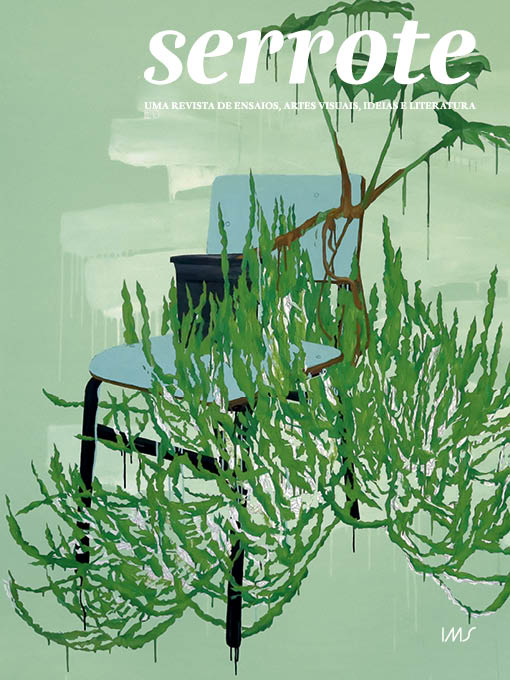Talvez você já tenha ouvido a má notícia. O número de universitários que se formam em humanidades (disciplinas que lidam com a produção cultural e que se diferenciam das ciências sociais e das ciências naturais por não usarem obrigatoriamente o método científico de pesquisa) está caindo vertiginosamente, de acordo com um grande estudo publicado no mês passado pela Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. A notícia provocou uma enxurrada de artigos pretensiosos lamentando o fato como um sintoma e presságio do declínio americano.
Mas existe outra maneira de analisar essa suposta revelação (na verdade, o número de graduados em humanidades está caindo desde a década de 1970).
O lado bom: a destruição das humanidades pelas humanidades está, finalmente, cessando. A literatura como parte do currículo acadêmico deixará de apagar o brilho da literatura. A leitura de, digamos, Rei Lear, ou do Mulheres apaixonadas de D.H. Lawrence, não resultará mais na transformação niveladora desses encontros transformadores em apenas mais dois elementos na carreira de graduação — aquela coisa opressiva de testes de múltipla escolha, redações e lições de casa.
O que desanima é que, para cada professor universitário que desperta o interesse por Shakespeare ou Lawrence em alguns poucos alunos de sorte — o acadêmico britânico Frank Kermode despertou em mim uma eterna chama de interesse por Shakespeare —, há incontáveis outros que fazem a leitura de obras primas da literatura parecer duas horas na cadeira de um dentista. Sob suas mãos monótonas, o termo “humanidades” transforma-se em código para “e para tirar nota máxima você nem precisa comparecer à aula”.
Quando as pessoas falam desanimadas sobre o destino das humanidades, estão falando especificamente da lenta extinção da especialização em língua inglesa. Não importa que a maioria dos que decidem se especializar em inglês ingressem em outras áreas, como Direito ou Publicidade, e que mesmo os alunos que não se formam em inglês tenham a possibilidade de fazer cursos de literatura. Sob a alarmente perspectiva atual, um grande número de pessoas dedicando quatro anos a basicamente estudar romances, poemas e peças de teatro é tudo o que resta entre nós e o ocaso sociocultural.
O fato extremamente insignificante de que, há meio século, 14% dos alunos de graduação especializavam-se em humanidades (a maioria em literatura, mas também em artes, filosofia, história, filologia clássica e religião), em comparação com os 7% atuais, gerou sérias reflexões sobre a natureza e o propósito de uma educação na área.
Tais reflexões sempre desembocam na mesma conclusão: dizem que a falta de uma educação formal, principalmente em literatura, leva a várias situações perniciosas, como a incapacidade de raciocinar de maneira crítica, escrever claramente, demonstrar empatia, ter curiosidade a respeito de outras pessoas e lugares, interessar-se pela grande literatura depois de receber o diploma e ser capaz de reconhecer a verdade, a beleza e a bondade.
Tais solenes inquietações são nobres, grandiosas, civilizadas, admiráveis em sua virtude e virtuosas em sua admirabilidade. E são também uma fantasia sentimentaloide.
O ensino universitário de literatura é um fenômeno relativamente recente. A literatura só foi se tornar parte do currículo universitário no fim do século XIX. Antes disso, o que veio a se chamar de humanidades consistia em aprender grego e latim ao mesmo tempo em que se estudava a Bíblia na igreja, a outra metade necessária para uma educação completa. Ninguém jamais pensava em lecionar sobre romances, histórias, poemas ou peças num programa de estudo formal. Tudo isso fazia parte do lazer da vida diária.
Com o declínio da autoridade religiosa, nasceram as humanidades para preencher a lacuna. Agora, Chaucer, Milton e Shakespeare estavam encarregados de ministrar a verdade às almas sedentas por um significado maior. No entanto, qualquer coisa mais contemporânea do que Shakespeare raramente entrava no currículo. (Quando fui aluno de graduação na Universidade de Columbia, fiquei completamente encantado ao descobrir que todo ano o departamento de inglês listava o número de telefone do professor visitante no catálogo telefônico de Manhattan sob o nome “Milton S. Chaucer”. Procurar o número, como eu quase sempre fazia, era um deleite.)
O ensino de literatura veio a ser reconhecido no começo do século XX, com a formação dos departamentos de literatura. Durante anos, consistiam basicamente de filólogos que examinavam a etimologia e a história de um texto. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que o estudo da literatura como um tipo de sabedoria, relevante para a vida real e contemporânea, espalhou suas enormes raízes institucionais.
Em certo sentido, a história do ensino de literatura como profissão é uma história de guerra. Os soldados que voltavam para casa em 1945 ansiavam por sentido em suas vidas depois da carnificina que testemunharam e à qual sobreviveram. A “GI Bill”, a lei que garantia a reintegração à sociedade para oficiais do serviço militar, e a economia abundante deram a eles a oportunidade e o tempo necessário para isso. Naquele momento, ensinar literatura como uma investigação dos enigmas da vida fazia sentido para muitos. A especialização em inglês atingiu o seu zênite, mas essa mesma popularidade da literatura na universidade foi o prenúncio de sua ruína, à medida que pedantes tendenciosos de diversas estirpes aceleravam a academização da arte literária.
Em comparação com os efeitos da Segunda Guerra Mundial, o derramamento de sangue sem sentido da Guerra do Vietnã fez com que todos desconfiassem das autoridades. Foi aí que o ensino de literatura adquiriu um fervor ideológico particularmente intenso, quando radicais universitários começaram sua longa (e infrutífera) marcha pelas instituições acadêmicas ocultando-se por trás da folha de figueira da mediocridade conhecida como “teoria”. E foi aí que começou o lento declínio da especializaçãoem inglês. Oresto da história já sabemos.
Só um canalha aplaudiria o declínio do estudo formal de livros que cultivam a empatia, a curiosidade, o gosto estético e o refinamento moral. Mas o estudo de literatura na academia não leva a nada disso.
Há mais de 50 anos, o professor e crítico Lionel Trilling expressou sua frustração com a apresentação da escrita imaginativa em sala de aula num ensaio intitulado On the teaching of modern literature (“Sobre o ensino da literatura moderna”). Foi publicado em 1961, época em que a graduação com especialização em inglês estava no auge.
Trilling observou que a literatura modernista presente no seu programa da disciplina — Eliot, Yeats, Lawrence, Proust, Kafka, Mann, Gide — “faz todas as perguntas proibidas em conversas educadas. Ela nos pergunta se estamos satisfeitos no casamento, na nossa vida familiar, na vida profissional, com nossos amigos.” E então expressou sua impaciência com as tentativas professorais de transmitir o caráter de obras marginais para alunos de graduação, zombando de uma típica questão típica de uma prova de seu curso: “Compare o uso que Yeats, Gide, Lawrence e Eliot fazem do tema da sexualidade para criticar as deficiências da cultura moderna. Justifique sua resposta com referências específicas à obra de cada autor. [Tempo: uma hora].”
Trilling ficava exasperado com o absurdo de lecionar sobre obras modernistas moralmente subversivas no ambiente moralmente convencional de uma universidade, a ponto de, de modo um tanto histérico, exagerar a ameaça do que ele chamava de “poder e terror” da literatura modernista (existe terror na Síria, não em Gide). Mas ele era, afinal de contas, um professor universitário, e não foi capaz de perceber que a sala de aula também destrói as alegrias da literatura, além de trivializar suas dissensões revolucionárias.
A literatura mudou minha vida bem antes de eu começar a estudá-la na universidade, e também depois, num transe infeliz, na pós-graduação. Nascido em uma família de origens modestas, mergulhei, maravilhado, nas emoções turbulentas de Julien Sorel, o jovem romântico e esperançoso de O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Meus pais podiam brigar enquanto os problemas conjugais os levavam para o divórcio, mas as histórias de Tchekhov me sustentavam com palavras que capturavam minha tristeza, e a linguagem de Keats me enchia de uma beleza capaz de repelir as forças que me deixavam melancólico.
Os livros me levavam para longe de mim mesmo e me faziam mergulhar em experiências que não tinham nada a ver com minha vida, e que mesmo assim encontravam ressonância nela. Ao ler a “Ilíada” de Homero, podia sentir o misterioso poder que era reconhecer o universo emocional de pessoas radicalmente diferentes. Yeats me deu a linguagem especial para exprimir um desejo que me definia mesmo que eu não soubesse que o tinha: “And pluck till time and times are done/The silver apples of the moon/The golden apples of the sun.”
Mas, assim que estava em sala de aula na universidade, essa outra preciosa vida interior era jogada de volta na dimensão de minha existência que eu achava irritante ou entediante. Homero, Tchekhov e Yeats eram reduzidos a respostas certas e erradas, temas claros e definidos, um emaranhado de interpretações sagazes e ainda mais sagazes. Livros que transformaram o mundo eram ensinados como se fossem ciência ou ciência social e reduzidos a meros fatos. Romances, poemas e peças que antes eram fonte de empatia e incitavam minha curiosidade agora eram só uma desculpa para a penosa labuta.
Quase todas as disciplinas acadêmicas exigem conhecimento especializado e domínio de habilidades e métodos. A literatura só exige que você seja humano. Não precisa ser ensinada, assim como sonhar não precisa ser ensinado. Por que o filho pequeno de Heitor, Astíanax, chora ao ver o pai colocar seu elmo? Para entender isso, basta ter coração.
Vejam, não estou dizendo que sou contra o estudo de clássicos da literatura ocidental. Sou contra pegar essas impressionantes epifanias do lado irracional, oculto e ainda impensado da vida humana, levá-las para a sala de aula de uma universidade e transformá-las em exercícios insípidos de competição, hierarquia e acumulação de informação, que são os inimigos mortais dessas obras.
A ideia de que a grande literatura pode ajudar a ler e pensar claramente também é uma quimera. Uma página das complexidades convolutas de Henry James ou das pulsantes repetições verbais de D.H. Lawrence é suficiente para anular a ilusão do valor da literatura como modelo retórico. Em vez disso, as obras-primas literárias da civilização ocidental demonstram as limitações da suposta capacidade de raciocinar claramente. Elas apresentam seus significados em nuvens de retalhos de associações, intuições e impressões. Há sonetos de Shakespeare que ninguém vivo consegue compreender. A sua qualidade rara é a capacidade que têm de nos deixar maravilhados com a linguagem, ao mesmo tempo em que ocultam seu significado nas dobras de um conjunto de imagens de sonho.
Os clássicos da literatura são um abrigo para aquela parte de nós que fica remoendo os enigmas da mortalidade, do sofrimento, da morte, da felicidade efêmera. São um refúgio para o nosso eu secreto que deseja contemplar a preciosa singularidade do mundo físico, que busca expressar sentimentos prismáticos demais para serem articulados de maneira racional. São lugares de silêncio, de inútil quietude num mundo que despreza toda atividade que não seja rentável ou produtiva.
A verdade repentina e surpreendente e a beleza da arte literária nos fazem sentir, naquela parte mais solitária de nós mesmos, que não estamos sozinhos, e que há significados que não podem ser comprados, vendidos ou trocados, que não deterioram e morrem. A essa experiência sem valor social ou econômico damos o nome de transcendência, e não é possível transformá-la em tese, ou dar a ela uma nota, ou classificá-la academicamente. A literatura é sagrada demais para ser ensinada. Ela só precisa ser lida.
Atualmente, estamos testemunhando o crescimento de novas distrações e prazeres digitais, a expansão de uma cultura predominantemente visual que ultrapassa em muito a imaginação, a onipresença de redes sociais que redefinem a solidão pura antes necessária para se ler um livro difícil. E, nesta era de rápidas mudanças no local de trabalho, os grandes mistérios da vida parecem mais econômicos do que existenciais. O ambiente digital também ressalta o raciocínio quantitativo, e talvez isso ajude a explicar por que os avanços culturais mais excitantes agora estejam nos campos da ciência e da medicina.
Não é de surpreender que, nesse ínterim, estudantes universitários escolham especializar-se em campos mais relevantes para a vida ao redor. Que grande bênção para a literatura. Escapulindo das prisões Ivy League (o grupo de oito universidades de elite dos Estados Unidos, com destacada excelência acadêmica e científica), onde foram forçados a trabalhar como “textos” para avaliação, os grandes pensamentos e sentimentos tornados permanentes pela arte podem voltar ao seu lugar de direito: uma fase única da experiência de cada um de nós.
De qualquer modo, todos fomos inspirados e atiçados pela literatura o suficiente para torná-la parte de nosso destino quando saímos do ensino secundário. Se existe algo a lamentar, deve ser o desaparecimento do que costumava ser o feijão com arroz de qualquer educação secundária: o curso de levantamento das obras literárias, onde livros não eram ensinados academicamente, e sim apresentados de maneira pessoal — uma experiência impermeável às explicações vazias e testes estéreis. Basta restaurar e reforçar esse encontro capaz de abalar estruturas e os alunos recém-graduados em busca de novos caminhos continuarão a ler e buscar as transformadoras obras literárias do passado assim como buscam o amor.
E assim como não precisamos saber biologia e fisiologia para amar e sermos amados, não precisamos saber, por exemplo, o contexto histórico ou retórico de Homero para mergulhar na jornada das viagens sem rumo, renascimento e retorno ao lar de Odisseu. Os velhos livros falarão à parte mais antiga de nós. Os jovens os lerão quando forem tocados por anseios inexprimíveis, assim como comem quando estão com fome. Se quiserem. Pode ser que alguns desses pobres coitados que se formam em algo diferente de humanidades não tenham nenhum interesse por literatura. Talvez precisem se contentar em buscar a cura do câncer e coisas do tipo.
Em Moby Dick, o narrador de Melville, Ishmael, declara que “um navio baleeiro foi a minha Yale, a minha Harvard”. Em breve, se tudo der certo e a literatura finalmente desaparecer do currículo de graduação — estou cruzando os dedos —, um número cada vez maior de pessoas poderá dizer que a leitura das antigas obras-primas da literatura fora da faculdade, somente no curso da vida, foi de fato a sua educação.
Publicado originalmente como Who ruined the humanities? no The Wall Street Journal, em 12 de julho de 2013.