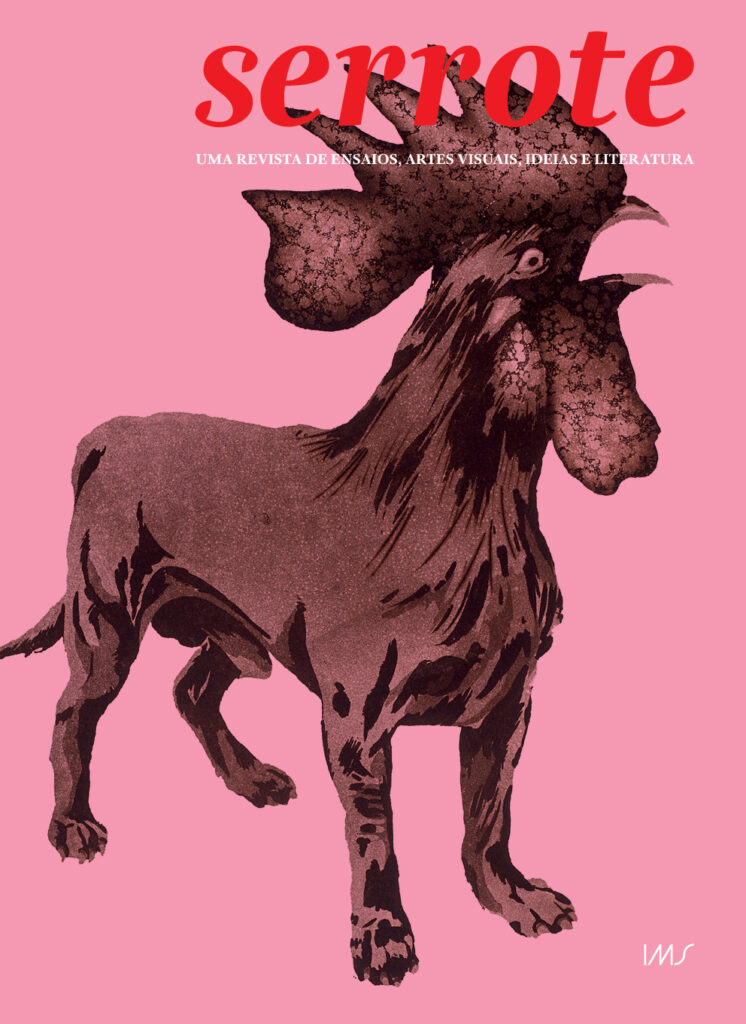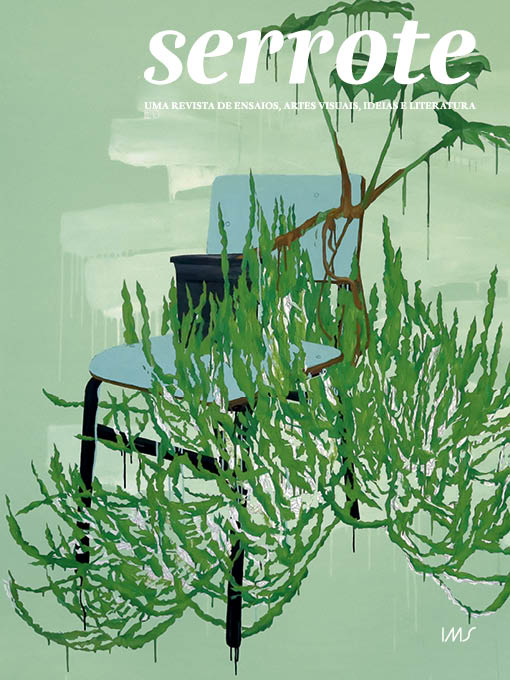Não é num museu ou numa galeria. Está nas livrarias a nova empreitada da artista visual Laura Erber: sua estreia no romance depois de publicar poemas e ensaios, Esquilos de Pavlov trata da arte contemporânea.
É pelo relato do fictício artista visual romeno Ciprian Momolescu que as coisas acontecem no livro, um fluxo de memórias suas e de outros, crítica de arte e história contemporânea com escracho, melancolia e horror. Do Leste pós-comunista, parte para, de bolsa em bolsa, percorrer residências artísticas por várias cidades europeias, até parar em Paris, com poucos projetos realizáveis.
Vendo também a partir de uma periferia, Laura Erber – nascida no Rio de Janeiro, viveu, como o protagonista, a imersão em casas e programas para artistas – se propôs assim a pensar no quanto ser artista se distingue, hoje, de fazer arte. Escolheu um formato que ainda não conhecia, mas que recolhe muito do que já conhece. Do verso ao arquivo, como conta nesta conversa com a serrote.
Esquilos de Pavlov é o romance de uma artista visual: não só pelas questões que aborda, mas também pelo modo de narrar. Como se deu esse percurso, que primeiro passa por poemas e exposições, depois ensaio, agora ficção? De que modo essas áreas convivem em você?
LAURA ERBER – Descartada a ideia de evolução, vou tentar responder. Não é fácil, pois essa movimentação entre linguagens eu prefiro não compreender ou tentar codificar totalmente. A imagem para mim não é o campo do não ficcional, pelo contrário. Minha entrada no romanesco foi muito motivada pela dimensão ficcional que a imagem carrega. Outra entrada no romance se deu pela expansão do poema, e se você prestar atenção, vai ver que grande parte da poesia contemporânea metaboliza elementos narrativos. Acho que não seria errado dizer que uma espécie de tentação narrativa ronda a poesia atual. Claro, generalizações são sempre perigosas, mas em todo caso o poema tem sido um lugar importante de experiências com enredos em miniatura, com maquetes de histórias, o poeta remaneja, esquarteja etc., mas ao seu modo também mobiliza historinhas e estorinhas. O romance foi pra mim o lugar de assumir os prazeres da narratividade e talvez também um modo de dar vazão ao humor que, por algum motivo, não consegui ainda articular no poema.
E há ensaio também no romance.
Para mim o ensaio é o rei dos animais literários. Mas não qualquer escrita ensaística, claro, e certamente não aquela que se contenta em apenas articular questões, mas o ensaio que faz com que o leitor sinta que está sendo levado por uma voz. Essa voz é a mais fascinante de todas, é a própria voz do pensamento, e talvez a mais difícil de atingir e a mais difícil de definir. Só que no ensaio em geral a gente amarra o autor ao que está sendo pensado num nexo afirmativo, quer dizer, aquilo que está sendo exposto a gente toma como o pensamento do autor. A vantagem do romance nesse sentido, e do narrador em primeira pessoa, é tentar pensar o pensamento de um outro. Então o Ciprian Momolescu me deu essa margem de manobra.
Pensar a arte contemporânea foi seu ponto de partida?
Havia uma questão: sou artista e em muitos sentidos me incomoda o que hoje essa noção consegue e não consegue ativar. Queria pensar sobre essa “condição” – que horror, né, parece que estou falando de uma doença –, pensar sobre um certo desgaste da ideia de arte, a relação cada vez mais tensa e intensa entre aquilo que chamamos de arte e o que consideramos como não sendo artístico. Achava que as vidas dos artistas em residência tinham algo a dizer sobre isso, não alguma coisa exemplar, mas…
Sua experiência como artista visual está de certo modo contemplada no romance. Uma origem familiar no Leste Europeu, as temporadas em residências artísticas, o estudo da arte surrealista, com seu ensaio sobre o poeta romeno Gherasim Luca. De que modo a montagem do livro se baseia no que você viveu? Usou diário pessoal, anotações, imagens, recordações de amigos e família?
Passei três anos direto nesse esquema de vida e de criação, convivendo praticamente apenas com artistas, arquitetos, músicos e curadores, enfim, uma overdose… Durante esse tempo – foram três anos consecutivos e depois residências mais curtas e intermitentes – as diversas situações de conversa foram me dando a sensação de que o que os artistas diziam, o jeito como explicávamos uns aos outros, o modo como descrevíamos e recontávamos os trabalhos uns dos outros, havia aí algo mais fascinante do que o encontro com muitos dos trabalhos “contados”. A gente não se dá conta, mas a história da arte contemporânea sendo escrita nos catálogos de bienais e nos textos críticos é bem menos contagiante do que essas estorietas que os artistas disseminam quando conversam. E esse tipo de conversa ekphrática acontece com uma intensidade infinitamente maior nessas situações de residência em lugares isolados onde o grande prazer – e o desprazer em geral, também com brigas e discussões violentas – vem dos encontros, das conversas. Por outro lado, isso nos leva a pensar que os espaços expositivos estão totalmente em crise. Você vai a uma Bienal e dificilmente consegue se conectar com os trabalhos.
Ciprian Momolescu passa o romance inteiro se encaixando nas burocracias, até que predomina uma falta de materialização, uma quase falência, já que ele tem de se ocupar da vida de artista em meio aos “paradoxos da globalização”, como observou Reinaldo Laddaga na introdução (e não deixa de ser terrivelmente irônico que o protagonista seja salvo pelos maçons, e não por alguma instância da arte, dos direitos humanos etc.). De que modo convive pessoalmente com essa questão?
Em constante conflito, eu diria. Houve um momento durante meu doutorado em que meu desejo de ser artista se divorciou totalmente do meu desejo de fazer arte. Ainda acho difícil lidar com isso, tenho tentado encontrar alternativas e o livro é/foi uma forma de pensar sobre isso, de criar um outro espaço. A trajetória de Ciprian é uma resposta possível, talvez não a mais alegre, mas é uma trajetória que lida com essa crise. Talvez seja um impasse irresolvível, mas numa das etapas entendi que pra mim era importante deixar de ser artista para continuar a fazer arte, quero dizer, poder passar dois, três, quatro anos ou mais tempo sem a obrigatoriedade de fazer uma exposição, sem seguir a cartilha do circuito, sem atender aos protocolos de visibilidade. É um risco, claro, sobretudo porque a gente sabe que uma assinatura é sempre algo muito frágil, mas o esquema viciado em que a arte circula é muito desanimador. Como Ciprian, acho realmente que arte é uma palavra gasta. Há outros meios de uma pessoa produzir artisticamente sem fazer arte, sem se tornar artista? Essa é a pergunta que me faço. O romance me colocou diante de um paradoxo: senti muito prazer inventando por escrito certas obras, adoraria fazer o que faz Ciprian, mas sei que para realizar isso no mundo dito real só existem duas possibilidades: fazer clandestina e anonimamente como um leitor distraído ou passar a vida encarando infindáveis negociações burocráticas com instituições artísticas, bibliotecas e o escambau…
Algo a se notar na forma do romance é como brinca com a ideia tradicional de costurar episódios. Diria que existem mesmo ligações feitas propositadamente para que fiquem evidentes e não invisíveis, e assim provocando humor. Por exemplo, o entrecho que dá título a um dos capítulos, “O caso do musguinho”. Podia lembrar de muitas outras passagens assim.
A ideia era tentar alternativas de dobradiças criando falsos capítulos, quer dizer, capítulos que se abrem mas nunca se fecham, capítulos mínimos, que não se justificariam num romance tradicional, imaginei algo parecido com intertítulos do cinema mudo, são mais pontuações narrativas (ou antinarrativas) no interior da história. Também me interessava esse fluxo menos linear de alguém que conta uma história mas no meio dela começa a contar outra e nunca retorna àquela história inicial, como bonecas russas que você vai abrindo mas depois não consegue reorganizar. Em poesia os acontecimentos ou imagens se enlaçam pela força da linguagem, e você não reclama “ora, puxa, o poeta mudou de assunto de novo”. Acho que isso tudo tem a ver com expectativas de leitura, de certo modo me desobriguei de uma parte da burocracia romanesca e tentei usar o humor como uma espécie de força centrípeta do livro.
Essas histórias que não terminam, relatos e performances que deixam o leitor em suspense, você pensa em continuá-las depois? Ao menos algumas delas?
Não tenho nenhum projeto nesse sentido, mas pode acontecer de querer retomá-las, pode acontecer. Algumas dessas histórias eram inicialmente poemas. A canção dos ursos e cogumelos, por exemplo, é um poema no qual estou trabalhando há uns três anos sem me convencer de que esteja terminado ainda. Também a cena da árvore das chupetas existe em um poema inédito, mas também pode acontecer de partes da narrativa se transformarem em poemas, ensaios. Os Esquilos surgem desse manejo de materiais diversos que não são romanescos na sua origem e nem em “essência”, e que poderão ser retrabalhados em outros registros.
Existe uma ideia forte de arquivo: são muitas as histórias de artistas, lugares, revoluções se sucedendo a cada parágrafo em ritmo intenso. Foi assim: você criou um repositório e o reabastecia conforme avançava na escrita?
Faço arquivos continuamente, são aleatórios e gosto que sejam assim, quer dizer, não existe um critério além da atração súbita por certas imagens. Desses arquivos retiro boa parte do meu material de trabalho, depois descubro ou invento nexos possíveis entre coisas distantes. Com o livro foi também um pouco assim, aconteciam esses encontros a posteriori, e a partir de certo ponto o livro me levou a colecionar imagens especialmente voltadas para aquele universo. Um dia, revendo os cadernos escolares do meu avô paterno – um triestino filho de judeus húngaros –, encontrei a reprodução de um retrato do imperador Franz Joseph. Era um desenho singelo, feito por um garoto de talvez oito anos num colégio interno, um exercício de homenagem ao poder imperial que materializava o imaginário que o narrador do romance mobiliza. Além das imagens, havia também uma coleção de estórias que retornavam quando eu tentava falar sobre arte contemporânea para quem não tem nenhuma relação com ela, e que momento é esse? Que tipo de experiência artística estamos criando para as pessoas da nossa época? Não havia muita diferença entre colecionar estorietas e colecionar imagens, mas quando a narrativa começou a galopar senti que precisaria criar novos materiais, então passei a amolar meus amigos do Leste com enxurradas de perguntas aparentemente idiotas mas na verdade muito preciosas pelas respostas que produziam. Mesmo quando as informações, o conteúdo, por assim dizer, não eram aproveitadas na narrativa, havia nas respostas um clima, uma ambiência que me ajudava como um diapasão.
Alguma dessas buscas foi conscientemente orientada?
Sim, num determinado momento tentei desencavar através desses amigos – que não eram apenas romenos, mas moldavos, bielorussos, ucranianos, ou seja, contextos muito, muito diferentes – uma história da arte contemporânea, mais precisamente a passagem do realismo socialista ao contemporâneo. Em alguns países essa passagem foi muito abrupta. Na Romênia os artistas durante muito tempo sob o regime Ceaucescu tinham uma dupla produção, a oficial e a experimental. Na Bielorússia o grupo Nemiga 17 foi realmente um pequeno grupo de amigos artistas que se inspiraram na arte primitiva para romper com a representação moldada pelo realismo socialista. Me interessei muito por essa transição, li muitos ensaios e continuo aliás interessada. Mas o interesse nisso surgiu bem antes de começar a escrever o livro, em 2005 um livrinho foi distribuído na Bienal de Veneza como parte da obra do Pavilhão Romeno, naquele ano com curadoria do Marius Babias e como artista convidado Daniel Knorr, que fez um trabalho chamado European Influenza, deixando o pavilhão vazio e pensando em todas as questões de política identitária envolvidas nos contextos artísticos e culturais do Leste, é uma compilação realmente sensacional. Nessa época eu morava na Akademie Schloss Solitude, e fui lendo durante o trajeto de volta de trem todos os ensaios que estavam traduzidos. Depois fui descobrindo outros críticos importantes nesse contexto, como Jindrich Chalupecki, que tem um livro chamado O mundo em que vivemos, e que nos anos 1940 já dizia que a arte não é nem comunicação nem expressão mas um sistema de perguntas. Devo dizer que fiz leituras absolutamente selvagens de teses de doutorado e artigos de Chalupecki e sobre ele, portanto minhas leituras estão sujeitas a muitos equívocos, mas agradeço aos robôs tradutores e a paciência de alguns amigos que sempre se dispõem a ajudar nos trechos mais nebulosos.
Por que escolheu o Leste Europeu?
Não foi uma escolha deliberada. Surgiu esse nome que me soou jocoso e simpático para se tornar um tipo de heterônimo, então por que não? Por outro lado me parece estranho que apesar de toda a grande influência dos Estudos Culturais no contexto brasileiro, no meio artístico as hierarquias ainda impedem um contato direto – não mediado pela França, Alemanha ou Estados Unidos – com outras periferias artísticas. Quando você é latino-americano trabalhando e expondo trabalhos na Europa ainda enfrenta bolorentas ou recauchutadas expectativas em relação ao seu pertencimento a uma cultura tropical tropicaliente etc e tal. E apesar da quebra de muitos tabus e mesmo do questionamento radical da noção de fronteira nacional, e mesmo com todo o discurso da globalização nas artes, existe um paradoxo: se incentiva muito o trânsito entre países mas os sistemas de valoração, recepção e leitura das obras ainda são muito verticalizados, às vezes mais do que nacionais, são locais, bairristas mesmo. (Veja Rio e São Paulo, por exemplo, e todas as diferenças entre artistas que têm ampla visibilidade e reconhecimento em uma capital mas na outra só têm aparições menores). Fazer essa ponte era tentar uma conexão entre duas margens da história da arte absolutamente desconectadas entre si, ou só conectadas através da presença de alguns artistas e críticos romenos que migraram para países que nos servem de bússola. Tristan Tzara, Cioran, Brauner, Benjamin Fondane…
Embora sejam poucas, as cenas e ápices de afeto são tão fortes que se destacam no fluxo de imagens de humor e terror.
Acho que tem muito afeto no livro e toda a acidez e o escárnio do narrador também são formas de afeto, o nojo, o riso, tudo entra nessa conta e se mistura com a melancolia cítrica. Ao reler o livro antes de entregá-lo ao editor, senti que Ciprian acabou por se parecer um pouquinho com Paulo Honório de Graciliano. Na faculdade de Letras dizíamos que era o personagem mais sexy da literatura brasileira… Mas não é nisso que se parece com Ciprian, mas porque começa muito controlador da narrativa e no final vai afrouxando as rédeas, até deixar uma sensibilidade mais lírica irromper.