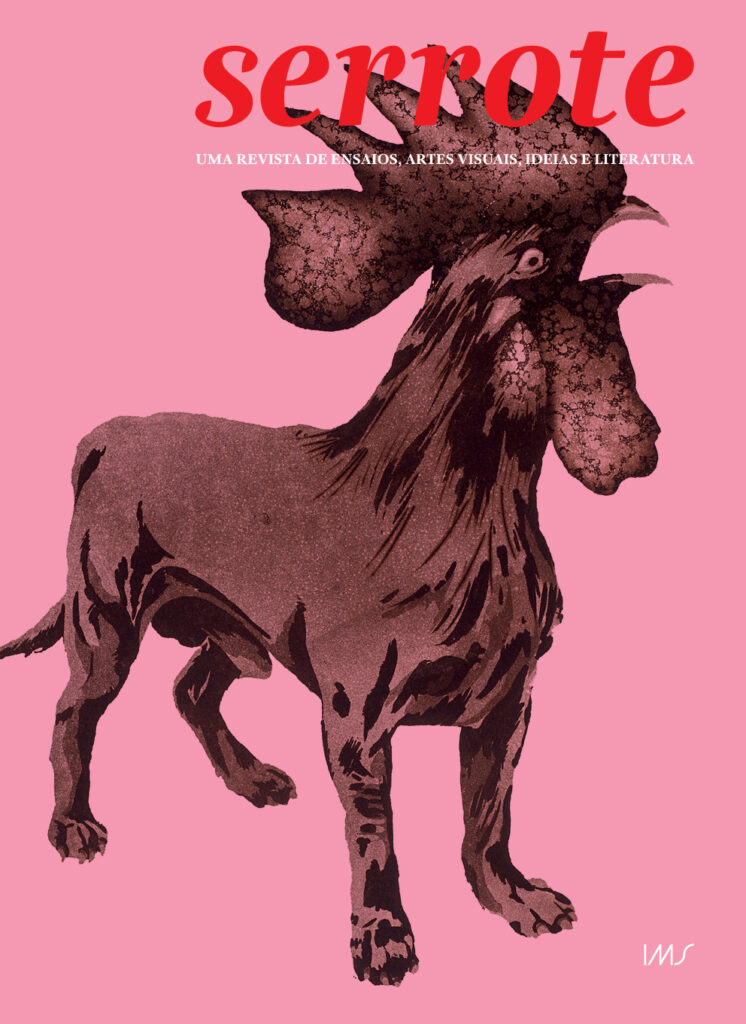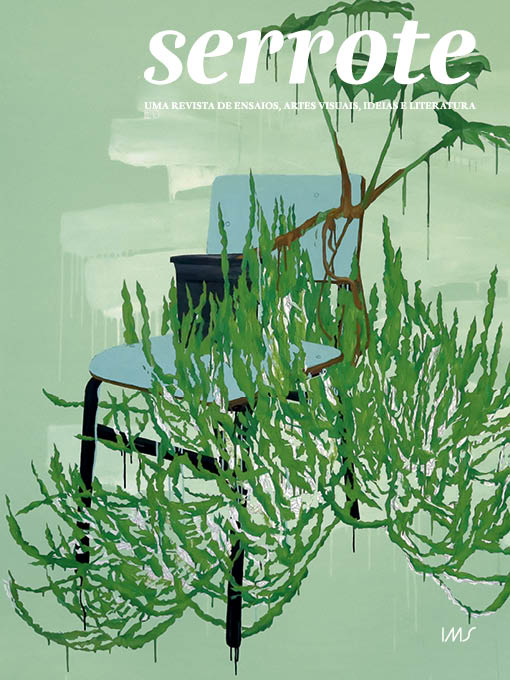Uma distância segura
JULIET LITMAN
Até recentemente, romances abordando o 11 de setembro eram recebidos com ceticismo, até mesmo com hostilidade. Mas agora esse tipo de ficção está encontrando mais tolerância. Mudaram os romances, ou mudamos nós?
Em 12 de setembro de 2001, a hoje famigerada fotografia de Richard Drew de um homem despencando do World Trade Center apareceu no The New York Times sob a manchete UM HORROR DE ARREPIAR: EDIFÍCIOS PEGAM FOGO E DESMORONAM ENQUANTO PASSANTES BUSCAM UMA SEGURANÇA ILUSÓRIA. A imagem de Drew capturava seu objeto em pleno ar, o corpo perfeitamente vertical, paralelo às vigas de aço da Torre Norte. O Times foi um dos muitos jornais que estamparam a foto – ela foi publicada também no St. Louis Post-Dispatch, no The Denver Post, no Los Angeles Times e no The Washington Post. E em todos os lugares em que apareceu despertou indignação. Redações de jornais de todo o país foram inundadas de protestos; a foto não devia ter sido publicada, queixavam-se os leitores.
A reação generalizada à foto de Drew é emblemática da áspera desaprovação que envolveu muitas respostas artísticas ao 11 de setembro – e o próprio homem em queda se tornou uma sinédoque recorrente na literatura do 11 de setembro. Contudo, mais do que representar o horror que os leitores de jornais viram com tanta veemência na fotografia, a imagem se tornou parte de um projeto para reduzir os efeitos danosos daquele dia, e para alterar o modo como nos lembramos de seus acontecimentos. Embora o cânone da ficção do 11 de setembro tenha evoluído ao longo dos anos, os romances discutidos aqui buscam restaurar uma segurança que se perdeu. Eles tentam ajudar a rever o 11 de setembro com menos dor.
Em Extremamente alto & incrivelmente perto (Rocco), de Jonathan Safran Foer, esse projeto não foi bem recebido. As páginas finais do romance são dedicadas a uma sequência fotográfica muito semelhante àquela de que foi tirada a imagem de Drew, mas, em vez de mostrar um corpo caindo, Foer inverte a ordem dos fatos: o homem em suas fotos desloca-se para cima até sair do quadro da câmera. Os resenhistas não gostaram da manobra. O romance inclui mais material visual – outras fotos, uma página de rabiscos coloridos – e enfrentou desaprovação em diversas frentes (na The Atlantic, um articulista desancou o texto por contribuir para a degeneração do pós-modernismo), mas a sequência do homem voador foi o que atraiu mais atenção: críticos se queixaram de que as fotos eram de mau gosto e não deveriam ter sido incluídas. Seus comentários ecoavam o protesto público de 12 de setembro – embora a linguagem tivesse mudado e as críticas estivessem inseridas na discussão literária, depois de quatro anos as fotos mais perturbadoras do 11 de setembro ainda eram consideradas horrendas demais para ser vistas.
Homem em queda (Companhia das Letras), de Don DeLillo, que teve melhor sorte, evocava as fotos de Drew de um modo diferente: DeLillo cria um artista de rua que, anos depois do 11 de setembro, reencena repetidamente a queda. O personagem, vestido com roupas semelhantes às do homem anônimo das fotos originais, pendura-se em altos poleiros em várias partes de Nova York, e, para o transeunte incauto, parece estar no meio de um mergulho. Na aparência, o uso que DeLillo faz da imagem é bem menos transgressivo: seu artista reconhece a terrível realidade da foto de Richard Drew, em vez de tentar explicitamente revertê-la. Mas na verdade DeLillo faz uma reversão mais dissimulada: ele expõe repetidamente o leitor à queda, apenas para mostrar a cada vez o arnês que salva o artista. As testemunhas, dentro e fora do livro, são dessensibilizadas; o ato de repetição de DeLillo tem quase o mesmo efeito da correção realizada por Foer. Mas, ao disfarçar essa reformulação do evento, DeLillo escapou de muitas, embora não de todas, as críticas que a apropriação de Foer sofreu.
Em conjunto, esses dois livros chamam a atenção para o exíguo espaço deixado aos escritores americanos que enfrentam o desafio de escrever sobre o 11 de setembro. Ambos parecem ter sentido que a queda – ícone do desconcertante trauma do 11 de setembro – tinha que ser desconstruída. Tentavam reverter ou protelar o que se subentende do registrado por Drew, deter o homem em queda – para dissipar o trauma do modo mais direto possível. E, embora a reação do leitor tenha sido ambivalente, é possível ver nessa tática audaciosa os primeiros esboços de uma reação do escritor americano – o anseio por refazer retoricamente o que foi testemunhado. DeLillo e Foer, escrevendo não muito tempo depois do atentado, demonstram a dificuldade de dar sentido à perda pessoal e à tragédia nacional; seus livros são produtos do pós-trauma.
No romance francês Windows on the World (Record), lançado na França em 2003 e nos Estados Unidos em 2005, Frédéric Beigbeder também apela para o homem em queda, mas ganha pontos ao escrever sobre ele indiretamente. O protagonista do livro (uma versão ficcional do próprio Beigbeder) rumina sobre o estado de espírito de um “saltador” do alto da Torre Montparnasse, em Paris. O homem que Beigbeder quer descrever não tem muito de vítima: aqui, o saltador é dotado de racionalidade e arbítrio. Até certo ponto, essa linguagem afirmativa descreve mais de perto a foto de Drew – Beigbeder verbaliza o sinistro silêncio que Drew captou. Desse modo, também Beigbeder recupera o homem em queda, mas sem recorrer à negação ou à neutralização. Ele tenta apaziguar o evento sem o alterar, permite ao leitor fazer as pazes com o modo como as coisas aconteceram. Seu êxito vem, em parte, de sua disposição em tirar a imagem de Drew de seu contexto sem interrompê-la. Em vez de se atracar com seu personagem acima do Ground Zero, Beigbeder tenta compreendê-lo tal como ele é, num novo contexto. No entanto, o romance de Beigbeder, fascinante e incomum, audacioso e premonitório, mal foi notado pela imprensa americana. Discuti-lo lá atrás, em 2005, requeria um vocabulário que estava fora do léxico dos anos imediatamente posteriores aos ataques de 11 de setembro.
Hoje, os romancistas que querem examinar aqueles fatos talvez desfrutem de uma tolerância maior. O surgimento de Deixe o grande mundo girar (Record), de Colum McCann, sugere que a ficção do 11 de setembro experimenta atualmente uma mudança de paradigma. Por meio de uma série de vinhetas interconectadas, McCann descreve os eventos de 7 de agosto de 1974, o dia em que Philippe Petit caminhou sobre uma corda bamba entre as duas torres do World Trade Center. Como Beigbeder, McCann busca um novo contexto para sua história – mas aqui somos deslocados no tempo e não no espaço. Tendo conquistado essa distância, Deixe o grande mundo girar reflete sobre a questão do olhar dos espectadores, ao qual outros romances tinham apenas aludido. A exemplo de Homem em queda, ele obriga os leitores a reviver e a rever a queda uma e outra vez – só que, aqui, o homem não cai. A cada vinheta, encontramos alguém que está de algum modo ferido, um personagem que está destinado a uma queda extemporânea (ou já a experimentou), e sentimos a inquietação dessas criaturas enquanto elas meditam sobre o artista da corda bamba. Suas quedas ocorreram por toda Nova York, não necessariamente no local das Torres Gêmeas, e a dor que impregna a história é tamanha que os leitores mal podem se alegrar com o feito de Petit. Assim, numa narrativa ágil, os leitores experimentam tanto a tristeza daqueles que já foram feridos, como a segurança de uma certa sobrevivência. Ali onde Foer e DeLillo (e Beigbeder, embora sem tanta agressividade) tentavam instaurar o sentido diretamente no ícone do homem em queda, McCann cria um palimpsesto – um palimpsesto que sugere: o trauma não repousa no evento, mas antes na convalescença que vem em seguida.
Desse modo, o livro de McCann pode ser considerado em dívida com o vencedor do The National Book Award de 2006, The Echo Maker [O fazedor de eco], de Richard Powers, que faz a crônica do restabelecimento de um homem chamado Mark Schluter, que se feriu em um acidente de carro no interior de Nebraska. O progresso de Schluter é medido pela passagem do tempo desde os ataques terroristas, e sua vida posterior é marcada por um distúrbio neurológico que o faz ver como inautênticos todos os aspectos de sua existência. Ele observa a própria vida e a dos que estão nela a partir de um distanciamento perplexo; os personagens de McCann assistem à caminhada de Petit com a mesma ambivalência. Ambos os livros ultrapassam a queda em si, em favor de uma investigação da angústia mais ampla em torno dela – a angústia de esperá-la, e de sobreviver a ela.
Terras baixas (Alfaguara), de Joseph O’Neill – que em 2008 se tornou o livro do momento, e provavelmente o mais destacado romance do 11 de setembro, quando foi noticiado que o presidente Barack Obama o lera –, também adota uma abordagem ampla do fato, e oferece outro antídoto a seu trauma. Nele, os contornos da cidade de Nova York – todos os cinco distritos –são traçados de modo exuberante, e a cidade é muito mais que um local de devastação. Dos campos de críquete à Herald Square, Nova York assoma no romance como uma figura vívida, análoga ao onipresente Philip pe Petit do livro de McCann. No entanto, os leitores não se equivocariam se tomassem o cenário de O’Neill por um planeta totalmente diferente do de DeLillo, do de Foer ou mesmo do de McCann. A Nova York deles é um lugar suspenso indefinidamente no terror, mas Hans van den Broek, o protagonista de O’Neill, embora também seja afetado pelo 11 de setembro, não precisa de atos narrativos grandiosos para se libertar de seu domínio. Se os outros autores deram à luz personagens que estagnaram sob o peso do desastre, O’Neill neutraliza esse medo mediante um foco maníaco no mundano.
Esse etos é bem expresso no gosto de Hans pelo Google Earth. Por meio do software, Hans faz visitas noturnas à Inglaterra, cruzando eletronicamente o Atlântico e, devagar, dando um zoom sobre Londres, a cidade para onde sua esposa e seu filho fugiram. Para ele, pontos turísticos famosos e nomes de ruas adquirem valor redobrado, porque são as únicas referências visíveis para o viajante virtual – no site e na vida real, ele busca reiteradamente tais consolos.
Ao contrário da esposa, que usa a gravidade emocional do 11 de setembro como desculpa para a falência do casamento, Hans não vê os ataques terroristas como a tragédia central de sua vida. Homem em queda e Extremamente alto tratam o 11 de setembro como uma ruptura crucial; o 11 de setembro é o trauma. Mas em Terras baixas, o 11 de setembro é um mero poste de luz num passeio pelo Google Earth. Ele contribui para o crescente estranhamento de Hans em relação à própria vida, mas é um estranhamento que ele já sentia antes do dia fatídico. Embora estivesse em Nova York em 11 de setembro, ele conta que sua impressão do evento foi formada pelo prisma dos meios de comunicação de massa. Ele testemunhou os ataques por meio das mesmas imagens vistas por alguém que estava, como ele diz, em Madagascar.
Até certo ponto, Terras baixas parece propício para uma aparição do homem em queda de Drew, já que a experiência de Hans era mediada pelas imagens mostradas nos jornais e na televisão. Mas o relato de O’Neill do 11 de setembro não se sente na obrigação de levar em conta o cruciante registro fotográfico, ou de incluir um páthos exagerado, porque ele não está realmente discutindo os mesmos fenômenos que seus predecessores. As críticas, talvez como resultado disso, foram bem mais favoráveis a Terras baixas.
E assim deparamos agora com duas cidades de Nova York e dois planetas literários no universo da ficção do 11 de setembro. Como o homem em queda começa como um ícone, desaparece de vista (em The Echo Maker e em Terras baixas) e depois retorna tão valente (em Deixe o grande mundo girar)? Subjacente à progressão desses textos, há uma utilização cambiante do 11 de setembro. A sinédoque do homem em queda – o símbolo do choque mais amplo, brutal, que se seguiu aos ataques – deu lugar ao metonímico artista da corda bamba de McCann, que não cai jamais, e ao olho aberto para tudo de O’Neill. A queda potencial pode envolver todo o texto, mas o trauma em questão não é mais o mesmo que o dos outros livros. Anteriormente, cada trama de romance estava munida de instruções sobre como dar sentido ao 11 de setembro em si; na nova geração de textos, a natureza variável das imagens ligadas ao homem em queda é acompanhada pela passagem do “11 de setembro como subtexto” para o “11 de setembro como pretexto”. A conhecida mitologia do World Trade Center agora é usada para introduzir uma discussão mais fecunda sobre o trauma contemporâneo – o estranhamento para além e à parte dos ataques em si. E isso, por sua vez, lança luz ao próprio evento, à medida que o leitor dotado do discernimento obtido num novo contexto retorna às origens da história.
O romance de Lorrie Moore, A Gate at the Stairs [Um portão diante da escada], ilustra proveitosamente o novo modo como o 11 de setembro é apresentado, e o novo modo como é recebido. O romance acompanha a estudante universitária Tassie Keltjin durante o outono de 2001 e o ano seguinte. Começando com a queda das torres, o 11 de setembro serve como o pano de fundo diante do qual muitas tragédias pessoais se desenrolam. Não é bem o trauma central – o romance é abrangente demais para isso –, mas também nunca chega a desaparecer de vista: o irmão de Tassie considera a hipótese de se alistar no exército; ela própria se envolve com um possível membro de uma célula de espionagem. O romance de Moore recebeu em geral resenhas positivas; no entanto, o uso que ela faz do 11 de setembro continua um ponto de controvérsia. Críticos consideraram as referências explícitas ao 11 de setembro pouco nuançadas, pouco cuidadosas, e de algum modo pouco autênticas – críticas que se assemelham muito às dirigidas a Foer em 2005. Contudo, o romance de Moore não foi totalmente rejeitado por conta dessas deficiências. Um lugar para o 11 de setembro na literatura está sendo delineado, embora não esteja ainda consolidado.
Em última análise, porém, a fixação no homem em queda ajuda a explicar por que romancistas chegam a tentar capturar um evento que permanece recente e bruto. O cânone do 11 de setembro é principalmente investido na restauração de uma contemplação segura, algo que a reação a imagens como a de Richard Drew nos lembrou que fora posto em risco pelos ataques terroristas. Com muita frequência, nesse gênero, personagens podem ser encontrados nas janelas ou olhando para os céus, à espera de um horror, antecipando uma fumaça escura e nefasta, esperando alguém cair do alto. Uma parte da ação de interpretar, reescrever ou alterar a história daquela queda consiste em refortificar as fronteiras invisíveis que foram atravessadas – instituindo uma nova segurança. É isso que a ficção pode fazer: esses livros oferecem um ponto de vista que não teríamos de outro modo, um jeito firme de enxergar dentro e através de eventos que, sem isso, são muito difíceis de observar diretamente. Não admira, então, que algumas das tentativas mais bem-sucedidas até agora venham de não americanos: Deixe o grande mundo girar, Windows on the World, Terras baixas e mesmo o romance de Ian McEwan ambientado em Londres, Sábado.
Mas os romances americanos que surgiram nos anos posteriores ao 11 de setembro são louváveis por assumir uma pesada responsabilidade e uma dura tarefa. Seus autores responderam à demanda do público por compreen são e interpretação, e aplicaram sua arte ao assunto que tinham em mãos sem recorrer aos métodos mais explicitamente ficcionais daqueles que vieram depois. Talvez, ao voltarmos a esses livros pioneiros, sua contribuição seja cada vez mais valorizada.
JULIET LITMAN nasceu e viveu em Nova York e vive em São Francisco. É colaboradora da McSweeney´s, editora e revista literária na qual este ensaio foi originalmente publicado.
Tradução de JOSÉ GERALDO COUTO
* Na imagem da home que ilustra este post: detalhe de The planes attacked (2002), de Maira Kalman